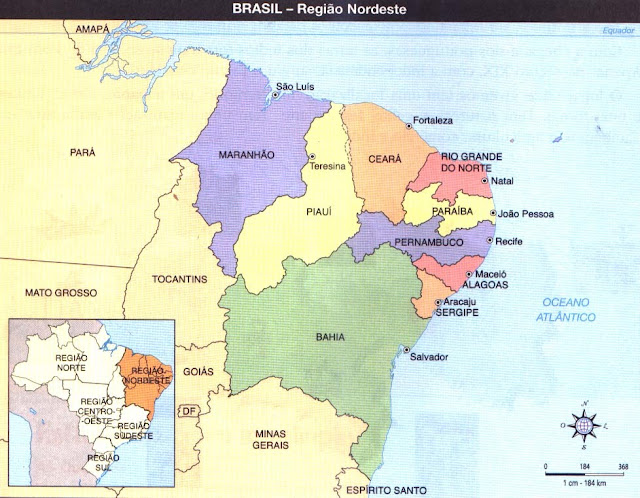Uma região de conflitos
A maior parte do Oriente Médio pertencia, até a Primeira Guerra Mundial, ao Império Otomano. Com a derrota desse império, a região tornou-se principalmente zona de influência da França e da Inglaterra.Os conflitos no Oriente envolviam o nacionalismo árabe, a questão judaico-palestina e os interesses internacionais pelo controle do petróleo. Por essas características, o Oriente Médio tornou-se, durante a Guerra Fria, um dos maiores focos de tensão entre as superpotências, principalmente após a criação do Estado de Israel.
Criação do Estado de Israel
No início da era cristã, uma rebelião na Judéia, província dominada por Roma(mais tarde chamada de Palestina), desencadeou a forte repressão das forças romanas. Depois disso, a maior parte dos judeus se refugiou em vários outros territórios, mantendo, porém, sua identidade cultural. A partir daí, os judeus foram forçados a migrar para outras regiões da Europa e para a África. Esse movimento ficou conhecido como Diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus pelo mundo. Desde o final do século XIX, muitos judeus imigraram para a Palestina, território onde existiu o Reino de Israel até 70 d.C., quando os romanos destruíram o Templo de Jerusalém e a população local teve de se exilar. Esses judeus eram guiados pelos ideais do movimento sionista (de Sion, uma colina situada em Jerusalém), que, inspirado nos fenômenos nacionalistas da Europa, defendia o retorno à chamada Terra Prometida e a criação de uma pátria que abrigasse os judeus de todo o mundo.No século XX, os judeus realizaram intensa migração para a Palestina, impulsionados pelo sionismo e pela Segunda Guerra Mundial:
- Sionismo: doutrina política criada no século XIX, favorável à reunião de todos os judeus do mundo em um só Estado judaico, Israel.
- Os horrores praticados pelos nazistas contra os Judeus na Segunda Guerra Mundial, o holocausto, também criaram uma situação favorável à criação do Estado de Israel.
Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o trauma causado pelas perseguições nazistas aumentou o fluxo migratório de judeus europeus em direção à Palestina, e a divulgação dos horrores praticados nos campos de extermínio fez com que parte da opinião pública internacional se tornasse favorável ao sionismo.
Judeus comemoram criação do Estado de IsraelEm 1947, a ONU aprovou a divisão da Palestina em dois Estados: um árabe e outro judeu. Em 14 de maio de 1948, os judeus criaram unilateralmente o Estado de Israel, com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. O plano de divisão da Palestina proposto pela ONU foi bem aceito pelos judeus, mas foi recusado pelas nações árabes, que invadiram Israel, iniciando a primeira Guerra Árabe-Israelense.O resultado disso foi a guerra deflagrada, naquele mesmo ano, entre árabes e israelenses. Após 15 meses de lutas, Israel venceu os árabes e expandiu seus territórios sobre as terras antes ocupadas por palestinos. As tropas de Israel lutaram contra as forças da Transjordânia (atual Jordânia), do Egito, da Síria, do Líbano e do Iraque. Após vencer essa guerra, Israel expulsou quase 750 mil palestinos, que passaram a viver como refugiados em nações vizinhas.Apesar de derrotados nesse conflito, que ficou conhecido como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, os Estados árabes do Oriente Médio mantiveram-se contrários à existência de Israel. A região tornou-se um foco de tensão constante.Desde sua criação, o Estado de Israel adotou uma política expansionista, avançando sobre territórios reservados aos palestinos na proposta original da ONU.
No início da era cristã, uma rebelião na Judéia, província dominada por Roma(mais tarde chamada de Palestina), desencadeou a forte repressão das forças romanas. Depois disso, a maior parte dos judeus se refugiou em vários outros territórios, mantendo, porém, sua identidade cultural.
A partir daí, os judeus foram forçados a migrar para outras regiões da Europa e para a África. Esse movimento ficou conhecido como Diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus pelo mundo. Desde o final do século XIX, muitos judeus imigraram para a Palestina, território onde existiu o Reino de Israel até 70 d.C., quando os romanos destruíram o Templo de Jerusalém e a população local teve de se exilar. Esses judeus eram guiados pelos ideais do movimento sionista (de Sion, uma colina situada em Jerusalém), que, inspirado nos fenômenos nacionalistas da Europa, defendia o retorno à chamada Terra Prometida e a criação de uma pátria que abrigasse os judeus de todo o mundo.
- Sionismo: doutrina política criada no século XIX, favorável à reunião de todos os judeus do mundo em um só Estado judaico, Israel.
- Os horrores praticados pelos nazistas contra os Judeus na Segunda Guerra Mundial, o holocausto, também criaram uma situação favorável à criação do Estado de Israel.
Judeus comemoram criação do Estado de Israel
Em 1947, a ONU aprovou a divisão da Palestina em dois Estados: um árabe e outro judeu. Em 14 de maio de 1948, os judeus criaram unilateralmente o Estado de Israel, com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. O plano de divisão da Palestina proposto pela ONU foi bem aceito pelos judeus, mas foi recusado pelas nações árabes, que invadiram Israel, iniciando a primeira Guerra Árabe-Israelense.O resultado disso foi a guerra deflagrada, naquele mesmo ano, entre árabes e israelenses. Após 15 meses de lutas, Israel venceu os árabes e expandiu seus territórios sobre as terras antes ocupadas por palestinos.
As tropas de Israel lutaram contra as forças da Transjordânia (atual Jordânia), do Egito, da Síria, do Líbano e do Iraque. Após vencer essa guerra, Israel expulsou quase 750 mil palestinos, que passaram a viver como refugiados em nações vizinhas.
Apesar de derrotados nesse conflito, que ficou conhecido como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, os Estados árabes do Oriente Médio mantiveram-se contrários à existência de Israel. A região tornou-se um foco de tensão constante.
Desde sua criação, o Estado de Israel adotou uma política expansionista, avançando sobre territórios reservados aos palestinos na proposta original da ONU.
Desenrolar dos conflitos
Sucessivas guerras têm sido travadas entre palestinos e israelenses desde essa época, muitas das quais envolvendo países vizinhos. Durante o período da Guerra Fria, a situação explosiva na região causou o receio de uma intervenção direta das superpotências mundiais, sobretudo porque os Estados Unidos auxiliaram militarmente Israel, tornando-o porta-voz de seus interesses no Oriente Médio, aliança que ainda se mantém.A Primeira Guerra Árabe-Israelense (1948), foi o primeiro de uma série de conflitos na região, conhecidos como Guerra de Suez (1956), Guerra dos Seis Dias (1967) e Guerra do Yom Kippur (1973), em que os Estados Unidos apoiaram Israel e a União Soviética apoiou os árabes. Essas guerras terminaram com a ocupação por Israel de todo o território destinado pela ONU aos palestinos.
Sucessivas guerras têm sido travadas entre palestinos e israelenses desde essa época, muitas das quais envolvendo países vizinhos. Durante o período da Guerra Fria, a situação explosiva na região causou o receio de uma intervenção direta das superpotências mundiais, sobretudo porque os Estados Unidos auxiliaram militarmente Israel, tornando-o porta-voz de seus interesses no Oriente Médio, aliança que ainda se mantém.
A Primeira Guerra Árabe-Israelense (1948), foi o primeiro de uma série de conflitos na região, conhecidos como Guerra de Suez (1956), Guerra dos Seis Dias (1967) e Guerra do Yom Kippur (1973), em que os Estados Unidos apoiaram Israel e a União Soviética apoiou os árabes. Essas guerras terminaram com a ocupação por Israel de todo o território destinado pela ONU aos palestinos.
A Questão Palestina
Antes de 1948, a Palestina era habitada principalmente por povos de origem árabe, os palestinos. Com a criação do Estado de Israel, os palestinos passaram a viver em campos de refugiados mantidos pela ONU. Desde então, eles passaram a lutar pela recuperação de seus antigos territórios e pela criação de um Estado independente conforme resolução da ONU.Na luta pela afirmação da soberania palestina surgiu a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), criada em 1964 e liderada por Yasser Arafat, que se tornou o principal representante dos palestinos em sua luta contra o Estado de Israel.
A expansão de Israel
Em 1967, eclodiu uma nova guerra, dessa vez entre o Estado israelense e o Egito, a Síria e a Jordânia. Em apenas seis dias, Israel derrotou os exércitos dos três países árabes. Em seis dias, os israelenses conquistaram o Sinai, a Faixa de Gaza, a Cisjordânia, as colinas de Golã e a parte oriental de JerusalémComo resultado, mais palestinos foram expulsos de suas terras, e Israel ocupou vários territórios, incluindo a cidade de Jerusalém.Chamado de Guerra dos Seis Dias, o conflito serviu também para consolidar a Guerra Fria na região: Síria e Egito aproximaram-se da União Soviética, ao passo que Israel obteve o apoio dos Estados Unidos. No final do conflito, além do grande número de mortos e feridos, os países derrotados tiveram parte de seus territórios ocupada, e cerca de 500 mil palestinos tiveram de se refugiarNa Guerra do Yom Kippur(feriado judaico do dia do perdão), em 1973, os exércitos do e da Síria avançaram em direção ao Sinai e as colinas de Golã. Israel com a ajuda dos Estados Unidos, conseguiu deter a ofensiva árabe, e ganhou a guerra.Em resposta à vitória de Israel na Guerra de Yom Kippur, os países árabes cortaram o fornecimento de petróleo aos países simpatizantes de Israel, gerando a chamada crise do petróleo, com graves consequências econômicas no mundo todo, principalmente nos países capitalistas.
Como resultado, mais palestinos foram expulsos de suas terras, e Israel ocupou vários territórios, incluindo a cidade de Jerusalém.
Chamado de Guerra dos Seis Dias, o conflito serviu também para consolidar a Guerra Fria na região: Síria e Egito aproximaram-se da União Soviética, ao passo que Israel obteve o apoio dos Estados Unidos. No final do conflito, além do grande número de mortos e feridos, os países derrotados tiveram parte de seus territórios ocupada, e cerca de 500 mil palestinos tiveram de se refugiar
A RESISTÊNCIA PALESTINA
Quando o primeiro conflito se iniciou, em 1948, viviam na região cerca de 1,4 milhão de palestinos. Um ano depois, metade deles já tinha deixado suas casas para viver em terrasda Palestina ainda não controladas por Israel e em países árabes vizinhos. Desde então, os palestinos passaram a lutar pela recuperação de seus antigos territórios e pela criação de um Estado independente.Muitos palestinos, fugindo das guerras e da perseguição israelense, dirigiram-se a países vizinhos da Palestina, onde frequentemente instalaram-se em campos de refugiados. Grupos de refugiados se uniram e fundaram, em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina (OLP).De início, essa organização atuou como força auxiliar das nações que lutavam pela criação de um Estado palestino. Com a derrota dos exércitos árabes na Guerra dos Seis Dias, a OLP passou a atuar isoladamente, promovendo atentados terroristas a alvos israelenses.Liderada de 1969 a 2004 por Yasser Arafat (1929-2004), a OLP passou a agir principalmente na Síria e no Líbano, de onde promovia ataques a Israel. As ofensivas motivaram a invasão do Líbano pelas forças israelenses, em 1982. Essa invasão, que praticamente destruiu o sul do território libanês e sua capital, atingindo duramente a população civil, teve êxito na tarefa de expulsar a OLP, mas levou a opinião pública internacional a se posicionar contra os israelenses.A IntifadaEm 1987, moradores da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, zonas palestinas ocupadas por Israel desde 1967, iniciaram uma rebelião contra a ocupação israelense. Esse primeiro movimento espontâneo, levou o nome de Intifada (guerra das pedras), pois eram assim que os palestinos enfrentavam o exército israelense. Esse movimento era formado principalmente por jovens palestinos, que compunham a população civil e reuniam-se para protestar contra Israel, atacando os soldados israelenses e seus veículos com pedras, paus e bombas caseiras.Esse confronto provocou grande repercussão. A morte de milhares de palestinos e centenas de israelenses chamou a atenção de todo o mundo para os conflitos no Oriente Médio.
Quando o primeiro conflito se iniciou, em 1948, viviam na região cerca de 1,4 milhão de palestinos. Um ano depois, metade deles já tinha deixado suas casas para viver em terras
da Palestina ainda não controladas por Israel e em países árabes vizinhos. Desde então, os palestinos passaram a lutar pela recuperação de seus antigos territórios e pela criação de um Estado independente.
Muitos palestinos, fugindo das guerras e da perseguição israelense, dirigiram-se a países vizinhos da Palestina, onde frequentemente instalaram-se em campos de refugiados. Grupos de refugiados se uniram e fundaram, em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina (OLP).
De início, essa organização atuou como força auxiliar das nações que lutavam pela criação de um Estado palestino. Com a derrota dos exércitos árabes na Guerra dos Seis Dias, a OLP passou a atuar isoladamente, promovendo atentados terroristas a alvos israelenses.
Liderada de 1969 a 2004 por Yasser Arafat (1929-2004), a OLP passou a agir principalmente na Síria e no Líbano, de onde promovia ataques a Israel. As ofensivas motivaram a invasão do Líbano pelas forças israelenses, em 1982. Essa invasão, que praticamente destruiu o sul do território libanês e sua capital, atingindo duramente a população civil, teve êxito na tarefa de expulsar a OLP, mas levou a opinião pública internacional a se posicionar contra os israelenses.
A Intifada
Em 1987, moradores da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, zonas palestinas ocupadas por Israel desde 1967, iniciaram uma rebelião contra a ocupação israelense. Esse primeiro movimento espontâneo, levou o nome de Intifada (guerra das pedras), pois eram assim que os palestinos enfrentavam o exército israelense. Esse movimento era formado principalmente por jovens palestinos, que compunham a população civil e reuniam-se para protestar contra Israel, atacando os soldados israelenses e seus veículos com pedras, paus e bombas caseiras.
Esse confronto provocou grande repercussão. A morte de milhares de palestinos e centenas de israelenses chamou a atenção de todo o mundo para os conflitos no Oriente Médio.
Intifada (guerra das pedras)
Em 2000, eclodiria uma nova Intifada, que só terminaria em 2005.
Negociações para a paz
Na tentativa de se estabelecer a paz, foram debatidos acordos em que os pontos fundamentais em questão se baseiam no princípio da troca de terras por paz, ou seja, que haja a devolução de territórios ocupados por Israel como meio para colocar um fim nos conflitos. Esses pontos são, basicamente:• o reconhecimento recíproco dos dois Estados, por parte de Israel e da Palestina;• a restituição de territórios ocupados por israelenses durante as guerras;• a disputa por Jerusalém, cidade sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos e cristãos.Após as guerras que resultaram na expansão israelense, os governos de Israel e dos países árabes tomaram algumas iniciativas para reverter a tensão e negociar a paz:
Na tentativa de se estabelecer a paz, foram debatidos acordos em que os pontos fundamentais em questão se baseiam no princípio da troca de terras por paz, ou seja, que haja a devolução de territórios ocupados por Israel como meio para colocar um fim nos conflitos. Esses pontos são, basicamente:
• o reconhecimento recíproco dos dois Estados, por parte de Israel e da Palestina;
• a restituição de territórios ocupados por israelenses durante as guerras;
• a disputa por Jerusalém, cidade sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos e cristãos.
Após as guerras que resultaram na expansão israelense, os governos de Israel e dos países árabes tomaram algumas iniciativas para reverter a tensão e negociar a paz:
Acordo de Camp David (1978)
Em 1979, Israel e Egito assinaram os acordos de Camp David, com mediação dos Estados Unidos, pelos quais determinou-se a devolução do Sinai (região invadida por Israel desde 1967) ao Egito e previu-se a retirada israelense da Cisjordânia (ocupada desde 1967), restabelecendo-se as relações diplomáticas entre os dois países. Em contrapartida, os palestinos conquistaram o apoio das demais nações árabes, que repudiaram os acordos.
O Acordo de OsloNo início da década de 1990, após anos de conflitos, parecia ser possível a paz entre árabes e israelenses. Desgastado por anos de atentados terroristas e pressionado pelos Estados Unidos, o governo israelense tomou a decisão histórica de negociar com a OLP.Somente em 1993, as negociações de paz avançaram e deram origem ao Acordo de Oslo, assinado pelo então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e por Yasser Arafat, líder da OLP. O lema do então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, era “Terra em troca de paz”, ou seja, devolver aos palestinos parte das terras invadidas na guerra de 1967 em troca do fim dos ataques da OLP. Ao assinar o acordo, que foi intermediado pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses se comprometiam a retirar seus exércitos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, aceitando o direito dos palestinos a um Estado livre e autônomo na região. Essa foi a base para o Acordo de Oslo, ratificado por Yitzhak Rabin e por Yasser Arafat em Washington D.C., em setembro de 1993.O Acordo de Oslo previa a criação de um Estado palestino, retomando parcialmente o projeto da ONU de 1947. Em uma fase intermediária, os territórios palestinos teriam autonomia relativa e seriam administrados pela Autoridade Palestina, órgão que iria preceder o futuro Estado.Desde 1993, autoridades palestinas e o governo de Israel vinham discutindo a criação de um Estado palestino. O resultado concreto dessas negociações foram a criação da Autoridade Nacional Palestina, entidade responsável pela administração dos territórios palestinos, e o controle palestino sobre a cidade de Jericó e a Faixa de Gaza.O acordo de paz logo enfrentou oposição. Grupos radicais israelenses, por exemplo, opunham-se a qualquer acordo com os palestinos, exigindo a expulsão deles e a ocupação definitiva da região por Israel. Um desses grupos orquestrou o assassinato de Yitzhak Rabin, morto em 1995.Os pontos de desacordo são a divisão de Jerusalém entre israelenses e palestinos, a retirada dos colonos israelenses de terras palestinas, o retorno de refugiados das guerras árabe-israelenses a suas antigas terras e o reconhecimento da Palestina como Estado independente.Não havia consenso também entre os palestinos, e ainda não há. No Acordo de Oslo, o Fatah, grupo que controla a OLP, abandonou o objetivo de destruir Israel e, em 1995, a Autoridade Palestina, sob o comando do Fatah, passou a administrar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Contudo, grupos radicais palestinos, como o Hamas e a Jihad Islâmica, opuseram-se à política de reconciliação com Israel, pois defendiam a completa destruição do Estado israelense, e não reconheceram o acordo de paz.A paz, no entanto, durou pouco. Na década de 2000, a tensão voltou a crescer com atentados comandados por grupos terroristas palestinos, como o Hamas. Em 2002, com a justificativa de proteger-se dos atentados, o governo de Israel deu início à construção de um muro na divisa do país com a Cisjordânia, separando o território judaico do palestino.Em 2003, os Estados Unidos, Rússia, União Européia e ONU divulgaram um novo plano para a região, o chamado Mapa de Estrada, que promoveria, até 2005, a criação de um Estado palestino, que conviveria pacificamente com Israel. Também esse plano fracassou.Em agosto de 2005, o governo de Israel decretou o fechamento da Faixa de Gaza aos israelenses e a retirada dos colonos judeus que lá viviam e de quatro colônias do norte da Cisjordânia, facilitando a ocupação da região por palestinos.Ao mesmo tempo em que tomava uma iniciativa que poderia auxiliar a paz, o governo israelense continuava a construção, iniciada em junho de 2002, de um “muro de proteção” entre Israel e a Cisjordânia. A construção gerou, desde o início, tensões políticas internas e muitas críticas palestinas e da comunidade internacional.A construção do “muro de proteção”, separando judeus e palestinos, começou a ser reivindicada depois do início da nova Intifada, em 2000, quando uma onda de atentados terroristas atingiu cidadãos israelenses.Com extensão prevista de 350 quilômetros, o muro deixa sob domínio israelense Jerusalém Oriental, anexada por Israel em 1967 e onde os palestinos pretendem a capital de seu futuro Estado.Em 2017, completaram-se 50 anos da Guerra dos Seis Dias, que envolveu Israel, palestinos e países árabes vizinhos. Nesse período, as principais negociações de paz e de criação de uma estrutura política que fosse satisfatória tanto para israelenses quanto para palestinos fracassaram.A oscilação nas negociações e as constantes mudanças no cenário político internacional e local mostram que a situação permanece explosiva na região e a paz parece distante.
Em 1979, Israel e Egito assinaram os acordos de Camp David, com mediação dos Estados Unidos, pelos quais determinou-se a devolução do Sinai (região invadida por Israel desde 1967) ao Egito e previu-se a retirada israelense da Cisjordânia (ocupada desde 1967), restabelecendo-se as relações diplomáticas entre os dois países. Em contrapartida, os palestinos conquistaram o apoio das demais nações árabes, que repudiaram os acordos.
No início da década de 1990, após anos de conflitos, parecia ser possível a paz entre árabes e israelenses. Desgastado por anos de atentados terroristas e pressionado pelos Estados Unidos, o governo israelense tomou a decisão histórica de negociar com a OLP.
Somente em 1993, as negociações de paz avançaram e deram origem ao Acordo de Oslo, assinado pelo então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e por Yasser Arafat, líder da OLP. O lema do então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, era “Terra em troca de paz”, ou seja, devolver aos palestinos parte das terras invadidas na guerra de 1967 em troca do fim dos ataques da OLP. Ao assinar o acordo, que foi intermediado pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses se comprometiam a retirar seus exércitos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, aceitando o direito dos palestinos a um Estado livre e autônomo na região. Essa foi a base para o Acordo de Oslo, ratificado por Yitzhak Rabin e por Yasser Arafat em Washington D.C., em setembro de 1993.
O Acordo de Oslo previa a criação de um Estado palestino, retomando parcialmente o projeto da ONU de 1947. Em uma fase intermediária, os territórios palestinos teriam autonomia relativa e seriam administrados pela Autoridade Palestina, órgão que iria preceder o futuro Estado.
O acordo de paz logo enfrentou oposição. Grupos radicais israelenses, por exemplo, opunham-se a qualquer acordo com os palestinos, exigindo a expulsão deles e a ocupação definitiva da região por Israel. Um desses grupos orquestrou o assassinato de Yitzhak Rabin, morto em 1995.
Os pontos de desacordo são a divisão de Jerusalém entre israelenses e palestinos, a retirada dos colonos israelenses de terras palestinas, o retorno de refugiados das guerras árabe-israelenses a suas antigas terras e o reconhecimento da Palestina como Estado independente.
Não havia consenso também entre os palestinos, e ainda não há. No Acordo de Oslo, o Fatah, grupo que controla a OLP, abandonou o objetivo de destruir Israel e, em 1995, a Autoridade Palestina, sob o comando do Fatah, passou a administrar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Contudo, grupos radicais palestinos, como o Hamas e a Jihad Islâmica, opuseram-se à política de reconciliação com Israel, pois defendiam a completa destruição do Estado israelense, e não reconheceram o acordo de paz.
A paz, no entanto, durou pouco. Na década de 2000, a tensão voltou a crescer com atentados comandados por grupos terroristas palestinos, como o Hamas. Em 2002, com a justificativa de proteger-se dos atentados, o governo de Israel deu início à construção de um muro na divisa do país com a Cisjordânia, separando o território judaico do palestino.
Em 2003, os Estados Unidos, Rússia, União Européia e ONU divulgaram um novo plano para a região, o chamado Mapa de Estrada, que promoveria, até 2005, a criação de um Estado palestino, que conviveria pacificamente com Israel. Também esse plano fracassou.
O futuro da Autoridade Palestina
A Organização para a Libertação da Palestina (OLP), criada em 1964 e liderada por Yasser Arafat, gerou a Autoridade Nacional Palestina (ANP) após as negociações de paz de 1994 em Oslo, na Noruega. A ANP se tornou desde então a principal representante dos interesses palestinos.Com a morte de Arafat, em 2004, iniciou-se um período de disputa entre diversos grupos palestinos pelo controle da ANP. Em janeiro de 2005, Mahmoud Abbas, do Fatah, grupo ao qual pertencia Arafat, venceu as eleições para a Presidência da ANP. Nas eleições parlamentares de janeiro de 2006, porém, o grupo radical Hamas conseguiu vitória. Pela primeira vez na história da Autoridade Palestina, o presidente e o primeiro-ministro pertencem a grupos diferentes e têm posições distintas: enquanto Abbas defende negociações com Israel, o Hamas é contrário a qualquer aproximação com o Estado judeu que implique fazer concessões.As divergências entre o Fatah e o Hamas levaram os territórios palestinos a uma situação de permanente instabilidade.Em 2007, o Hamas, que havia vencido as eleições palestinas no ano anterior, expulsou as lideranças do Fatah da Faixa de Gaza, o que deu início a constantes atritos entre as duas organizações.Apesar de alguns avanços, como a retirada de moradores judeus da Faixa de Gaza (em 2005) e o reconhecimento da Autoridade Palestina e do conjunto de seus territórios como Estado não membro da ONU (em 2012), grupos radicais palestinos e israelenses continuam a promover a violência.Um novo cenário do conflito na região surgiu em 2017. O Fatah e o Hamas assinaram um acordo de reconciliação prevendo a formação de um governo de união nacional para os palestinos. O governo de Israel reagiu afirmando que, caso os dois grupos de fato se juntassem, as negociações com os palestinos só seriam possíveis se o Hamas dissolvesse seu braço armado e reconhecesse o Estado de Israel, condições que o Hamas não tendia a cumprir.Em 2018, o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, reconheceu Jerusalém, objeto de disputa entre palestinos e israelenses, como a capital de Israel, transferindo para a cidade a embaixada estadunidense, antes fixada em Tel Aviv. O episódio gerou enfrentamentos que resultaram em 55 pessoas mortas e pelo menos 2 mil feridas.Entre 2020 e 2021, já em um contexto marcado pela pandemia da covid-19, os confrontos entre Israel e Palestina diminuíram sensivelmente em relação aos anos anteriores. Além disso, no início de 2020, diversos Estados-membros da União Europeia pediram a garantia de direitos iguais para palestinos e israelenses, em uma tentativa de apaziguar os confrontos na região.O fundamentalismo religiosoO fundamentalismo religioso tem como base a defesa da interpretação literal dos livros sagrados. Os fundamentalistas acreditam que seguir à risca os preceitos religiosos é o único meio de garantir o retorno à fé original.No Oriente Médio, existem grupos fundamentalistas islâmicos e judaicos. Na Palestina, desde a década de 1980, os fundamentalistas do grupo Hamas defendem a criação de um Estado islâmico palestino e não reconhecem a legitimidade do Estado de Israel. Eles promovem ataques terroristas contra militares e civis israelenses.
Hamas é a abreviatura de Harakat Al-Muqawama Al-islamia (Movimento de Resistência Islâmica). O movimento ficou conhecido em 1987, quando se tornou mais atuante na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, ao questionar a política da OLP de aproximação com Israel. O Hamas promove atos beneficentes em regiões de ocupação palestina e foi responsável por diversos atos terroristas contra alvos judeus e em defesa do islamismo.
Com a morte de Arafat, em 2004, iniciou-se um período de disputa entre diversos grupos palestinos pelo controle da ANP. Em janeiro de 2005, Mahmoud Abbas, do Fatah, grupo ao qual pertencia Arafat, venceu as eleições para a Presidência da ANP. Nas eleições parlamentares de janeiro de 2006, porém, o grupo radical Hamas conseguiu vitória.
Pela primeira vez na história da Autoridade Palestina, o presidente e o primeiro-ministro pertencem a grupos diferentes e têm posições distintas: enquanto Abbas defende negociações com Israel, o Hamas é contrário a qualquer aproximação com o Estado judeu que implique fazer concessões.
As divergências entre o Fatah e o Hamas levaram os territórios palestinos a uma situação de permanente instabilidade.
Em 2007, o Hamas, que havia vencido as eleições palestinas no ano anterior, expulsou as lideranças do Fatah da Faixa de Gaza, o que deu início a constantes atritos entre as duas organizações.
Apesar de alguns avanços, como a retirada de moradores judeus da Faixa de Gaza (em 2005) e o reconhecimento da Autoridade Palestina e do conjunto de seus territórios como Estado não membro da ONU (em 2012), grupos radicais palestinos e israelenses continuam a promover a violência.
Um novo cenário do conflito na região surgiu em 2017. O Fatah e o Hamas assinaram um acordo de reconciliação prevendo a formação de um governo de união nacional para os palestinos. O governo de Israel reagiu afirmando que, caso os dois grupos de fato se juntassem, as negociações com os palestinos só seriam possíveis se o Hamas dissolvesse seu braço armado e reconhecesse o Estado de Israel, condições que o Hamas não tendia a cumprir.
Em 2018, o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, reconheceu Jerusalém, objeto de disputa entre palestinos e israelenses, como a capital de Israel, transferindo para a cidade a embaixada estadunidense, antes fixada em Tel Aviv. O episódio gerou enfrentamentos que resultaram em 55 pessoas mortas e pelo menos 2 mil feridas.
Entre 2020 e 2021, já em um contexto marcado pela pandemia da covid-19, os confrontos entre Israel e Palestina diminuíram sensivelmente em relação aos anos anteriores. Além disso, no início de 2020, diversos Estados-membros da União Europeia pediram a garantia de direitos iguais para palestinos e israelenses, em uma tentativa de apaziguar os confrontos na região.
O fundamentalismo religioso
O fundamentalismo religioso tem como base a defesa da interpretação literal dos livros sagrados. Os fundamentalistas acreditam que seguir à risca os preceitos religiosos é o único meio de garantir o retorno à fé original.
No Oriente Médio, existem grupos fundamentalistas islâmicos e judaicos. Na Palestina, desde a década de 1980, os fundamentalistas do grupo Hamas defendem a criação de um Estado islâmico palestino e não reconhecem a legitimidade do Estado de Israel. Eles promovem ataques terroristas contra militares e civis israelenses.
Ataque terrorista do Hamas
"O ataque terrorista do Hamas no sábado (7 de outubro de 2023) deu início ao conflito mais mortal dos últimos anos entre Israel e o grupo terrorista, que comanda o território da Palestina na Faixa de Gaza. Milhares de pessoas morreram, outras milhares foram feridas e há civis sequestrados.A primeira ação do Hamas se deu ainda nas primeiras horas de sábado, ao passar pelos muros de ferro que dividem Israel do território palestino. São quase 65 km de barricadas duplas, com seis metros de altura e equipadas com tecnologia para detectar qualquer violação – como câmeras, sensores e arame farpado em suas estruturas. Ainda há uma barreira de concreto enterrada abaixo do muro com sensores para identificar a escavação de túneis.""Em Israel, foram convocados 300 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país, para uma possível invasão em resposta ao ataque. O Hamas disse que vai executar um civil refém para cada bombardeio em Gaza."Fonte:https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/10/10/israel-x-hamas-infografico-confronto.ghtml
"O ataque terrorista do Hamas no sábado (7 de outubro de 2023) deu início ao conflito mais mortal dos últimos anos entre Israel e o grupo terrorista, que comanda o território da Palestina na Faixa de Gaza. Milhares de pessoas morreram, outras milhares foram feridas e há civis sequestrados.
A primeira ação do Hamas se deu ainda nas primeiras horas de sábado, ao passar pelos muros de ferro que dividem Israel do território palestino. São quase 65 km de barricadas duplas, com seis metros de altura e equipadas com tecnologia para detectar qualquer violação – como câmeras, sensores e arame farpado em suas estruturas. Ainda há uma barreira de concreto enterrada abaixo do muro com sensores para identificar a escavação de túneis."
"Em Israel, foram convocados 300 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país, para uma possível invasão em resposta ao ataque. O Hamas disse que vai executar um civil refém para cada bombardeio em Gaza."
Fonte:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/10/10/israel-x-hamas-infografico-confronto.ghtml