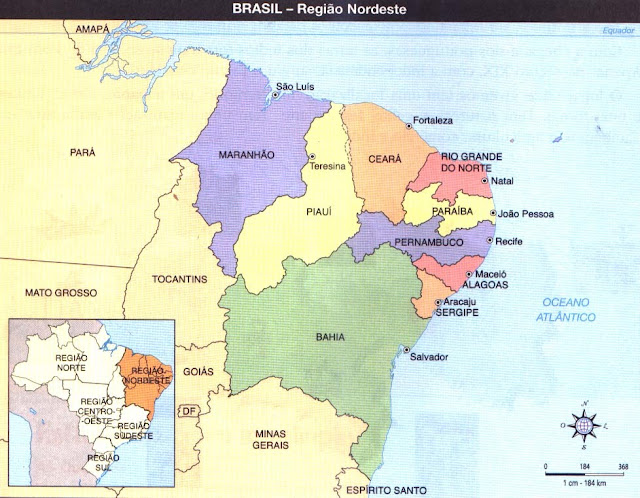As décadas de 1980 e 1990 marcaram o fim das ditaduras na América Latina. Em cada país, o processo de redemocratização foi distinto. No Brasil, sob pressão de movimentos sociais a favor da democracia, o governo conduziu uma abertura política lenta e gradual. A Lei da Anistia (1979) estabeleceu o retorno dos exilados e restabeleceu os direitos políticos aos perseguidos pelo regime.
Na Argentina e no Chile, pouco depois do fim dos governos ditatoriais, formaram-se Comissões da Verdade para apurar os crimes e violações aos direitos humanos cometidos pelo Estado contra opositores e seus familiares. Esse processo, além de divulgar a crueldade dos agentes do Estado no passado recente, visando à promoção e valorização da democracia, resultou na punição de torturadores pela Justiça. No Brasil, a Comissão da Verdade foi instaurada somente em 2012.
Memória, verdade e justiça
Uma das formas encontradas pelos governos que haviam acabado de sair de conflitos ou de regimes autoritários para assegurar o direito à memória e à verdade foi instituir comissões da verdade – órgãos oficiais, temporários e sem caráter judicial, que investigam abusos e violações aos direitos humanos cometidos ao longo de um período.
Mais de trinta países de diversos continentes instituíram inquéritos, aprofundaram investigações e promoveram algum tipo de reparação simbólica ou material às vítimas da violência e da repressão política, ou a seus parentes.
No Brasil, somente em 1995 foi criada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, para apurar minimamente as circunstâncias de assassinatos e desaparecimentos. Apesar de não apontar os agentes, a investigação favorecia a responsabilização geral do Estado pelos crimes.
Em 2012, o governo de Dilma Rousseff instituiu a Comissão Nacional da Verdade, para investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. A CNV também tinha o objetivo de propor medidas para garantir o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Para a reparação simbólica, o relatório é muito relevante, mas a memória pública da ditadura e de seus crimes ainda parece interditada ou desprezada.
No dia 10 de dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) entregou o relatório final de suas atividades à presidente Dilma Rousseff. Após dois anos e sete meses de trabalho sistemático, a CNV produziu um relatório de mais de 4 mil páginas.
No relatório, os presidentes do regime civil-militar foram acusados de serem os responsáveis pelas torturas. Além disso, o documento indica que 377 agentes atuaram diretamente na repressão, na tortura e na morte de guerrilheiros. O relatório revelou 434 mortes e desaparecimentos nesse período.
A CNV também comprovou que os crimes foram realizados de forma sistemática e generalizada nas instituições policiais e de segurança criadas pela ditadura militar. Ao todo, 377 militares foram responsabilizados pelos crimes.
A CNV também denunciou os métodos de tortura e as perseguições a religiosos, a indígenas, a LGBTs e aos próprios militares. Entre outras recomendações, propôs a revisão da Lei da Anistia, que beneficiou agentes da repressão e torturados. Segundo o relatório, a tortura, as execuções e a ocultação de cadáveres são crimes contra a humanidade e não podem receber anistia. Existem aqueles que são contra a revisão da Lei da Anistia. Eles alegam que os agentes da repressão combatiam guerrilheiros que assaltaram bancos, sequestraram embaixadores e mataram militares.
Os guerrilheiros afirmam, no entanto, que já sofreram punições: foram torturados e ficaram anos na prisão ou no exílio. Lembram que outros foram mortos. Argumentam, também, que os policiais e militares eram funcionários públicos e que deveriam agir de acordo com a lei, e não de maneira cruel e desumana.
A CNV apresentou 29 recomendações tanto para garantir o reconhecimento dos direitos das vítimas da violência de Estado como para evitar violações futuras dos direitos humanos. Seguem algumas delas:
1. O reconhecimento da responsabilidade institucional das Forças Armadas pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar (de 1964 a 1985).
2. A proibição da realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de 1964.
3. A revisão do conteúdo curricular das academias militares e policiais para a promoção da democracia e dos direitos humanos.
4. Criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura.
5. Manutenção das atividades de localização e identificação das vítimas do regime, além da entrega dos restos mortais aos familiares ou pessoas legitimadas, para que tenham sepultamento digno.
6. Preservação da memória das violações de direitos humanos empreendidas pelo regime militar.
Apesar do trabalho da CNV e das diversas pressões dos movimentos sociais, até 2021 nenhum militar brasileiro havia sido julgado e condenado pelos crimes cometidos durante o regime militar.